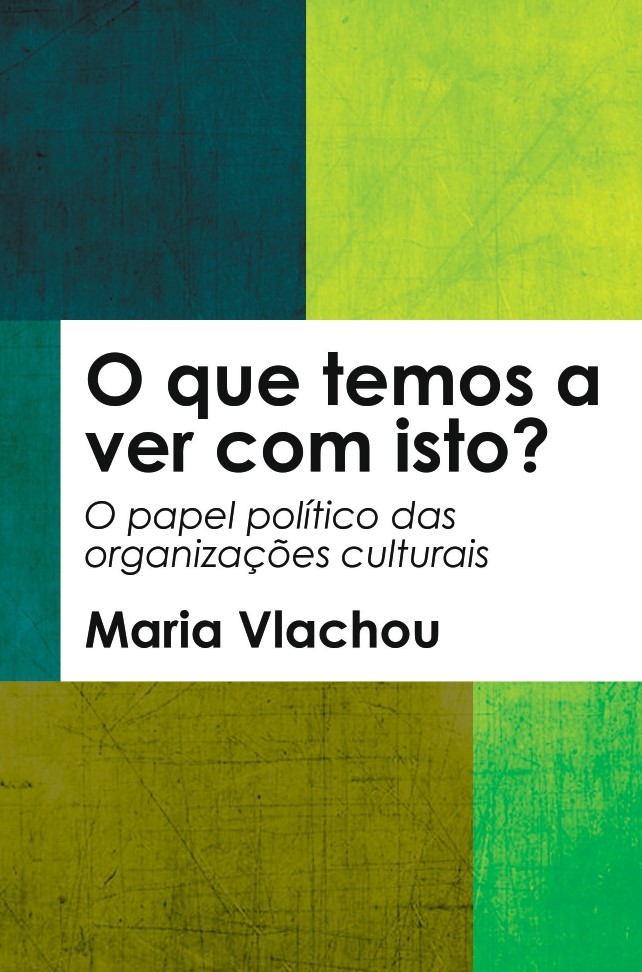As questões culturais, simbólicas e em torno da identidade e do reconhecimento têm-se afirmado nos últimos anos como uma arena de disputas políticas cada vez mais acesas. Descolonização do ensino e do pensamento, Black Lives Matter, cancelamento cultural, “ideologia de género”, wokeismo, devolução de património, apropriação cultural, remoção e destruição de estátuas são termos e problemáticas, mais ou menos legítimos e mais ou menos carregados ideologicamente, que quotidianamente são trazidos à baila ou utilizados como armas de arremesso no debate público. Neste contexto tão abertamente conflitual, muitos agentes culturais sentirão porventura uma especial tentação de se absterem de tomar partido e de se refugiarem numa torre de marfim de pretensa neutralidade, recusando o envolvimento político, como se a sua missão em mais não consistisse do que em contribuir para a produção ou preservação de “alta cultura”.
Foi em grande medida contra esta entendimento pernicioso da missão dos agentes e instituições culturais que Maria Vlachou escreveu O que temos a ver com isto?, um pequeno mas estimulante livro que reúne cerca de duas dezenas de reflexões, comunicações e textos de blogue sobre as relações entre arte, cultura, cidadania e participação política. Nesses textos, redigidos ao longo de um período de vários anos que se estende praticamente até ao presente (tendo o livro sido publicado em Maio do presente ano, alguns dos textos chegam a fazer referência à invasão da Ucrânia), Vlachou baseia-se numa ampla experiência de trabalho nos domínios da gestão e comunicação cultural, tanto a nível internacional como em Portugal, que inclui passagens pelo Teatro São Luiz e pelo Pavilhão do Conhecimento, por exemplo. É com base nessa trajectória e numa comprometida e rigorosa reflexão que a autora nos propõe que repensemos a função social das instituições culturais (museus, teatros, orquestras, bibliotecas e outras), percebendo-os como espaços por excelência para a produção colectiva de significados e para a construção de cidadania.
A adopção de uma tal perspectiva implica promover uma “curadoria do desconforto”, tal como é dito a certa altura, criando espaços e experiências em que sejamos confrontados com a alteridade e a diversidade de pessoas e perspectivas. Implica substituir as noções passivas de público e de espectador pelas noções activas de povo e sociedade, tal como referido noutra passagem. Implica (volto novamente a citar) fomentar diálogos que sejam “verdadeiros, desafiantes, desconcertantes, desconfortáveis”. Tudo isto, claro está, é profundamente político, num sentido que está muito para além da discussão mais superficial em torno da instrumentalização panfletária da arte e da cultura. Aquilo de que aqui se fala é do contributo da cultura e das instituições culturais para a construção de um espaço público participado e democrático e das condições para que essa construção aconteça, como sejam a superação do medo do colectivo ou o indispensável concurso de lideranças corajosas e humildes.
Este pequeno livro é, em suma, um manifesto contra a ideia de cultura neutra e apolítica, algo que não só é errado – já que o silêncio dos justos é tão nocivo quanto a iniquidade dos que praticam o mal –, como é na verdade impossível – já que quem nada diz ou faz perante a injustiça está na realidade a pronunciar-se publicamente sobre essa mesma injustiça. Ao fazê-lo, não é apenas aos agentes culturais que este livro interpela, mas a todas e todos nós, como cidadãos e nas nossas diversas esferas de intervenção – para que nos envolvamos, tomemos partido e sejamos mais corajosos e humildes.